Volumes
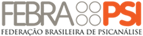
- Volume 59 nº 4 - 2025
- Volume 59 nº 3 - 2025
- Volume 59 nº 2 - 2025
- Volume 59 nº 1 - 2025
- Volume 58 nº 4 - 2024
- Volume 58 nº 3 - 2024
- Volume 58 nº 2 - 2024
- Volume 58 nº 1 - 2024
- Volume 57 nº 4 - 2023
- Volume 57 nº 3 - 2023
- Volume 57 nº 2 - 2023
- Volume 57 nº 1 - 2023
- Volume 56 nº 4 - 2022
- Volume 56 nº 3 - 2022
- Volume 56 nº 2 - 2022
- Volume 56 nº 1 - 2022
- Volume 55 nº 4 - 2021
- Volume 55 nº 3 - 2021
- Volume 55 nº 2 - 2021
- Volume 55 nº 1 - 2021
- Volume 54 nº 4 - 2020
- Volume 54 nº 3 - 2020
- Volume 54 nº 2 - 2020
- Volume 54 nº 1 - 2020
- Volume 53 nº 4 - 2019
- Volume 53 nº 3 - 2019
- Volume 53 nº 2 - 2019
- Volume 53 nº 1 - 2019
- Volume 52 nº 4 - 2018
- Volume 52 nº 3 - 2018
- Volume 52 nº 2 - 2018
- Volume 52 nº 1 - 2018
- Volume 51 nº 4 - 2017
- Volume 51 nº 3 - 2017
- Volume 51 nº 2 - 2017
- Volume 51 nº 1 - 2017
- Volume 50 nº 4 - 2016
- Volume 50 nº 3 - 2016
- Volume 50 nº 2 - 2016
- Volume 50 nº 1 - 2016
- Volume 49 nº 4 - 2015
- Volume 49 nº 3 - 2015
- Volume 49 nº 2 - 2015
- Volume 49 nº 1 - 2015
- Volume 48 nº 4 - 2014
- Volume 48 nº 3 - 2014
- Volume 48 nº 2 - 2014
- Volume 48 nº 1 - 2014
- Volume 47 nº 4 - 2013
- Volume 47 nº 3 - 2013
- Volume 47 nº 2 - 2013
- Volume 47 nº 1 - 2013
- Volume 46 nº 4 - 2012
- Volume 46 nº 3 - 2012
- Volume 46 nº 2 - 2012
- Volume 46 nº 1 - 2012
- Volume 45 nº 4 - 2011
- Volume 45 nº 3 - 2011
- Volume 45 nº 2 - 2011
- Volume 45 nº 1 - 2011
- Volume 44 nº 3 - 2010
- Volume 44 nº 2 - 2010
- Volume 44 nº 1 - 2010
- Volume 44 nº 1 - 2010
- Volume 43 nº 1 - 2009
Volume 59 nº 2 - 2025 | Psicanálise em chamas
Sumário (Clique nos títulos para acessar editorial ou resumos disponíveis)
Editorial
Sapo não pula por boniteza,
mas porém por percisão.
Provérbio capiau citado por joão guimarães rosa,
“A hora e a vez de Augusto Matraga”
No braseiro da “percisão” arde nosso sossego. Há fenômenos que colocam o psicanalista em apuros e, no calor da situação, ele salta para responder, de novo e – quem sabe – dessa vez melhor, tentando estar à altura do que se impõe.
No primeiro número de nossa gestão editorial, Desilusões na clínica psicanalítica, tratamos do tempo do luto, da perda das ilusões. O tempo de constatar limites, de elaborar fracassos, sem deixar de investir futuro. Agora, em Psicanálise em chamas, estamos no tempo da urgência, quando o jogo ainda não está perdido, mas exige do psicanalista se reconhecer em defasagem, para então se mobilizar: incômodo, trabalhoso, quiçá fértil.
Quem diria que depois de Freud nos incluir no grupo daqueles que “perturbaram o sono do mundo” (1914/1996, p. 32), descobriríamos ser necessário explicitar que somos, em contrapartida, também perturbados pelos movimentos desse mesmo mundo?
O aparelho teórico ganha em não funcionar demasiado bem, dizia Pontalis (1977/2005). Esse desfuncionamento não apenas põe a psicanálise no fogo – é ele que lhe dá fogo vital. E uma vez que “poupar-se do fogo não é uma opção analítica” (Azevedo et al., 2025, p. 22), como sugerimos em nossa carta-convite, mantenhamos a chama acesa, estimulados pelos impasses e desafios.
Durante um recente evento preparatório para o 30º Congresso Brasileiro de Psicanálise da Febrapsi, realizado em Pelotas, me foi perguntado sobre o movimento PsiSafe, aquele dos grupos minorizados que, desconfiados por conta das más experiências de cuidados psicoterápicos e temendo novas violências, buscam atendimento com psicanalistas que pertençam ao mesmo grupo ou que sejam a ele simpatizantes. Essa mobilização, iniciada na França, reuniu psicanalistas reconhecidos como “safe”: sensíveis às dimensões sociais de opressão e sofrimento que recaem sobre sexualidades dissidentes. Essa perspectiva se amplia ao considerar outras formas de violência social que atingem corpos historicamente marcados – experiências de significativo impacto psíquico.
Sem desconhecer que possa haver nesse gesto alguma evitação da tensão turbulenta da alteridade, é preciso admitir que há na prática clínica
retraumatismos operados pelo não reconhecimento das dimensões sociopolíticas de certos mal-estares, motivo pelo qual uma proteção desse tipo se torna compreensível.
O analista “safer”(1 ) não é, necessariamente, alguém “igual”, no sentido de partilhar das mesmas vivências, mas alguém que reconhece suas próprias marcas sociais. Alguém ciente de seus preconceitos, defasagens e limitações – e que se responsabiliza por isso em seu percurso clínico. Trata-se de um psicanalista que se sabe em “percisão” formativa constante, que sabe não ser “safe” para o outro, nem para si mesmo. Ele pode se deparar com lapsos que revelem aspectos racistas, homofóbicos, transfóbicos ou misóginos – e sustenta o desconforto e a elaboração do que ali emerge, através de si. Afinal, o psicanalista também é sujeito de sua história, forjado em um tempo e em uma cultura marcados por estruturas sociais que o atravessam. “Não há corpo humano universal, mas uma multiplicidade de seres humanos e tecidos orgânicos racializados, sexualizados, generificados” (Preciado, 2008, p. 170).
Foi por esses caminhos que os artigos em resposta à carta-convite nos conduziram. Os textos temáticos abordam as urgências envolvidas nas múltiplas camadas da clínica contemporânea, a presença recorrente de questões sobre gênero e adolescência chamou a atenção. A clínica inter-racial ganha destaque na seção “Diálogos”, com um artigo assinado por Ignácio A. Paim Filho e Hayanna Carvalho Santos Ribeiro da Silva, comentado por Wania Maria Coelho Ferreira Cidade e Gilberto Souza. Já na seção “Interface”, a antropóloga Hanna
Limulja, com experiência de estudo intercultural junto aos povos yanomami, aponta a urgência de reconhecermos outras formas de sonhar o mundo, capazes de inspirar gestos concretos diante das emergências climáticas.
Neste número, além das seções habituais, também publicamos os keynote papers que serão apresentados no Congresso Internacional de Psicanálise da ipa de 2025, em Lisboa.
Desejamos que as brasas acesas nestas páginas soprem reflexões que nos ajudem no calor da clínica diária e em nossas construções teóricas,
Boa leitura a todos!
(1 ) Prefiro “mais seguro”, já que um psicanalista seguro não existe.
Temáticos
Apoiada na leitura de Paris está em chamas?, de Lapierre e Collins, e na escrita de Selma Santa Cruz, Para entender Paris, a autora sublinha a tradição revolucionária da psicanálise, sua insistência em fazer avançar a teoria e a técnica, coluna vertebral de sua ética. Os constructos teóricos e clínicos elaborados por Marcelo e Mauren Viñar sobre exílio e tortura fornecem uma espécie de bússola para a clínica com pessoas em sofrimento extremo. Uma clínica que impõe ao analista encontrar uma abertura para o dilema entre o gelo da desafetação e o fogo da consumição.
Palavras-chave: psicanálise em chamas, ética psicanalítica, psicanálise com pessoas em sofrimento extremo
A autora discute a questão do imprevisível no campo do autismo. Crianças autistas, cujo narcisismo primário é dotado de grande precariedade, se desorganizam ao entrar em contato com a imprevisibilidade do universo humano, caracterizado pelo pulsional. Assim, tais crianças adotam o que ela chama de solução autística: o estabelecimento de uma relação de apoio perceptivo-sensorial com o inanimado, que visa estabilizar minimamente o sentimento identitário. A autora apresenta o material clínico de uma criança de 9 anos, onde vemos que a elaboração da experiência do susto ligado à instabilidade do mundo vai dando lugar ao surgimento da experiência da surpresa. O trabalho analítico vai permitindo à paciente que o encontro com a alteridade aconteça de maneira prazerosa e enriquecedora, e não de maneira disruptiva e traumática – e portanto como algo a ser ativamente negativizado.
Palavras-chave: imprevisibilidade, autismo, pulsional, sentimento identitário
As autoras propõem uma reflexão, a partir do seriado Adolescência, sobre a violência das práticas sociais que vêm se desenvolvendo no convívio de adolescentes, estimuladas pelas redes sociais. Consideram os fatores ambientais, intrapsíquicos e transgeracionais que contribuem para os conflitos e contradições. Abordam possíveis heranças de abandono afetivo vivido pelos jovens, seus pais e educadores, colocando a todos em estado de desamparo e de falta de recursos psíquicos e sociais para enfrentar as questões da sexualidade, da agressividade e da entrada no pacto social.
Palavras-chave: violência, reconhecimento, redes sociais, masculinidade, desamparo
Neste artigo, o autor propõe uma reflexão sobre as insuficiências do analista a partir do relato do caso de Sofia, uma paciente transgênero cuja trajetória desafiou os limites da escuta analítica e exigiu a ressignificação da prática clínica. Discute os entraves e as rupturas ocorridos ao longo do processo analítico, com destaque para o impacto dessas experiências no analista, enfatizando a relevância da elasticidade da técnica e da implicação pessoal. Ancorado nas contribuições de Sándor Ferenczi e considerando as demandas subjetivas contemporâneas, o autor investiga como o reconhecimento e a aceitação das próprias limitações podem abrir caminhos para uma prática psicanalítica mais ética, sensível e transformadora.
Palavras-chave: Ferenczi, clínica psicanalítica, transgênero, empatia
O autor discute o problema das masculinidades imaginadas inscritas na clínica psicanalítica pelo viés da prosa literária queer, da psicanálise e da sociologia. À maneira de avisos de incêndio, um paciente comunicou medos, inseguranças, desejos e idealizações, bem como um jeito particular de encarar sua masculinidade, experimentada ora de modo viril e tóxico, ora de forma vulnerável e persecutória, solicitando ao analista na transferência uma prática psicanalítica para lidar com essas chamas.
Palavras-chave: masculinidades imaginadas, idealização, vulnerabilidade, sentimento de resolução, transicionalidade
As autoras exploram a escrita literária contemporânea de mulheres, abordando a relação entre experiência, dor e criação. Partindo da máxima de que para chegar ao universal é preciso adentrar o íntimo, propõem que a escrita de mulheres é entendida como uma expressão política e psíquica, capaz de romper silêncios históricos e de elaborar subjetividades. Encenam um diálogo ficcional entre Freud, Cixous, Safo, Woolf, Klein, Horney e Kristeva para discutir as concepções psicanalíticas e literárias sobre a mulher e a criação. Por fim, abordam os impactos do feminismo na psicanálise contemporânea, a partir das contribuições de Baruch e Serrano, e propõem uma reflexão sobre a busca de mulheres analisandas por processos de subjetivação mais autônomos.
Palavras-chave: escrita de mulheres, psicanálise, feminismo, subjetividade, literatura
As autoras têm como objetivo compreender o esquecimento da obra da psicanalista Sabina Spielrein, à luz de sua própria proposta metapsicológica e de seu processo criativo. Segundo a hipótese delas, o esquecimento da autoria de Spielrein, que representa um pedaço incompreendido da história do campo psicanalítico, relaciona-se à própria condição de mulher no espaço público e nas instituições de psicanálise naquele período histórico.
Palavras-chave: história da psicanálise, Sabina Spielrein, sexualidade feminina, destruição, criação
A autora aborda a integração entre a psiquiatria e a psicanálise no contexto da saúde pública brasileira. Compartilha suas experiências no atendimento a dependentes químicos no Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Outras Drogas, destacando os desafios e complexidades desse trabalho, e discute a influência de figuras culturais, como Aldir Blanc, para a compreensão dos dramas humanos na prática clínica. Considera as raízes psicanalíticas de sua escuta no trabalho clínico e, dessa forma, debate a importância de uma formação humanística e da compreensão do contexto cultural e social para um atendimento mais empático, abordando a interface da psicanálise e da psiquiatria e o interjogo entre os dois campos do conhecimento.
Palavras-chave: psicanálise, psiquiatria, dependência química, cultura
A autora analisa os efeitos da virtualidade na constituição da experiência de si na adolescência, a partir da clínica psicanalítica. Com base em casos clínicos e referências teóricas como Winnicott, Tustin, Foucault, Illouz e Naomi Klein, discute de que modo o uso intensivo de tecnologias digitais, como videogames, redes sociais e fanfics, pode provocar experiências de despersonalização, dificuldade de simbolização e sensação de irrealidade. Destaca o papel do corpo e da materialidade nas experiências sensoriais e afetivas fundamentais para o desenvolvimento do self. A virtualidade, ao operar uma fragmentação do outro, tende a instaurar um modo de presença desvitalizado. A autora argumenta que o brincar e a simbolização são formas possíveis de resistência subjetiva diante da captura sensorial promovida pelo universo digital.
Palavras-chave: adolescência, virtualidade, experiência de si, psicanálise, corpo
Neste artigo, o autor propõe estudar as mudanças havidas no conceito e na formação da masculinidade na contemporaneidade. Através do estudo das variadas formas com que a masculinidade é proposta ou mesmo exercida na nossa cultura, ele chega ao conceito de masculinidade cuir (ou queer) para alinhá-lo com aquilo a que se propõe uma psicanálise clínica: a busca de um destino para a pulsão edípica que não fique apenas ancorado nos preceitos socioculturais. Sua conclusão é de que não se pode postular que essas transformações se deem num âmbito destituído de turbulências, fazendo com que o processo psicanalítico deva dar margem a que cada um desenvolva sua própria postulação do que seja o masculino em si.
Palavras-chave: masculinidade, identificação, castração, queer
Diálogos
Os autores interrogam a psicanálise tradicional a partir do diálogo entre Freud, Fanon e autoras negras brasileiras (Souza, Gonzalez, Nascimento, Bento), usando a metáfora do controle do fogo para discutir aspectos da renúncia e do sequestro pulsional em nossa colonialidade. Apresentam uma discussão sobre os mecanismos denegatórios presentes no racismo brasileiro, ampliando a noção de “neurose cultural brasileira” (Gonzalez) para propor o conceito de “psiconeurose narcísica cultural brasileira”, e articulando recalque (neurose), desmentido (perversão) e foraclusão (psicose) como mecanismos de negação presentes na formação psíquica do povo brasileiro. Com base no estudo de sua própria clínica com pessoas negras, destacam duas questões: a demanda de negrura na transferência e a ascensão social como experiência vertiginosa. Defendem, por fim, a necessidade de incendiar o dispositivo psicanalítico, abrindo mão da falsa neutralidade branca por uma escuta racializada, de brancos e negros, implicada com o Real da história, não como concessão, mas como paradigma emergente para uma prática clínica antirracista e vitalizadora.
Palavras-chave: psicanálise em chamas, relações raciais, psiconeurose narcísica, clínica racializada
não disponível
não disponível
Tema livre
O autor se refere a algo que já foi consciente, a algo que sempre permaneceu inconsciente e também a algo que nunca foi sequer inconsciente, mas que permaneceu em registros somáticos pela incapacidade do sistema, que ainda não dispunha de um córtex cerebral mielinizado para a memória psíquica. Assim, propõe discriminar conceitualmente entre mente primordial e mente primitiva. Conclui com um material clínico.
Palavras-chave: mente primordial, mente primitiva, registros somáticos e psíquicos, emergências intuitivas
História da psicanálise
O autor parte do princípio metodológico da convergência cronológica entre artigos psicanalíticos, a primeira análise de Anna Freud e seu desenlace homossexual. Estuda as consequências dessa análise sobre sua prática analítica e o que dela decorreu. Sugere como Ferenczi pode ter teorizado o que assistia.
Palavras-chave: simbiose, Freud, Burlingham, Andreas-Salomé, Ferenczi
Interface
Este texto é uma versão modificada do primeiro capítulo do livro O desejo dos outros: uma etnografia dos sonhos yanomami, fruto da tese de doutorado da autora em antropologia social. O objetivo foi realizar uma releitura de A queda do céu, autobiografia do xamã e liderança Davi Kopenawa Yanomami, à luz dos seus próprios sonhos, que vão desde a sua infância na floresta até a sua vida adulta, quando Kopenawa viaja para fora do Brasil, em busca de apoio para a demarcação da Terra Indígena Yanomami, assolada pelo garimpo ilegal. No final, a autora aponta a dimensão política do sonho entre os Yanomami e a urgência de considerar outros modos de sonhar o mundo para pensar a nossa própria noção do que é humano, e a partir daí articular uma ação posicionada frente a uma realidade deflagrada.
Palavras-chave: Yanomami, sonhos, política, humano, crise
Congresso IPA
O autor examina a questão da guerra e do clima a partir da perspectiva psicanalítica. Para isso, recorre a conceitos como psique, protonarcisismo, narcisismo e ideologia. Conclui refletindo sobre a necessidade de cada qual cultivar seu jardim, mas sem cair na tentação do isolamento intradisciplinar.
Palavras-chave: psicanálise, guerra, clima, narcisismo
O autor examina a teorização psicanalítica tradicional sobre a primeira infância e o infantil, com especial atenção à sexualidade infantil. Para isso, considera as teorias da psicologia do ego, de Melanie Klein e de Jean Laplanche. Conclui apontando que todo ser humano precisa de algo a que se agarrar, mas que, paradoxalmente, agarrar-se com menos afinco às teorias pode tornar tudo mais fácil.
Palavras-chave: teoria psicanalítica, sexualidade infantil, psicologia do ego,
Melanie Klein, Jean Laplanche
A autora explora o impacto transformador de reconhecer a vida cibernética dos pacientes e construir pontes com o espaço analítico, especialmente no contexto da análise com crianças e adolescentes. Com o uso difundido da tecnologia digital na vida dos pacientes jovens, os analistas são incentivados a obter uma compreensão mais profunda do papel do espaço cibernético na vida psíquica desses pacientes e a considerar a incorporação de dispositivos digitais como um modo de comunicação dentro do setting analítico. Por meio de dois materiais de caso detalhados, a autora ilustra como a integração do espaço cibernético dos pacientes no espaço analítico tem um papel crucial na jornada analítica, facilitando a construção de um espaço potencial e do funcionamento simbólico na mente deles. Também demonstra diversos desafios de contratransferência que os analistas podem encontrar quando a tecnologia ou sua influência estão presentes no espaço analítico.
Palavras-chave: tecnologia digital, espaço cibernético, espaço analítico, espaço potencial, encontros transformadores
Por meio da comparação entre culturas ocidentais e orientais, o autor considera a noção de triangularidade e os fundamentos da psicanálise. Para isso, recorre a diversos mitos presentes nessas culturas. Por fim, reflete sobre os ataques individuais e sociais à triangularidade e às formas maduras de pensar, ataques que predominam em tempos caóticos.
Palavras-chave: triangularidade, Édipo, cultura, fundamentos da psicanálise