Volumes
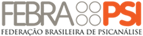
- Volume 59 nº 4 - 2025
- Volume 59 nº 3 - 2025
- Volume 59 nº 2 - 2025
- Volume 59 nº 1 - 2025
- Volume 58 nº 4 - 2024
- Volume 58 nº 3 - 2024
- Volume 58 nº 2 - 2024
- Volume 58 nº 1 - 2024
- Volume 57 nº 4 - 2023
- Volume 57 nº 3 - 2023
- Volume 57 nº 2 - 2023
- Volume 57 nº 1 - 2023
- Volume 56 nº 4 - 2022
- Volume 56 nº 3 - 2022
- Volume 56 nº 2 - 2022
- Volume 56 nº 1 - 2022
- Volume 55 nº 4 - 2021
- Volume 55 nº 3 - 2021
- Volume 55 nº 2 - 2021
- Volume 55 nº 1 - 2021
- Volume 54 nº 4 - 2020
- Volume 54 nº 3 - 2020
- Volume 54 nº 2 - 2020
- Volume 54 nº 1 - 2020
- Volume 53 nº 4 - 2019
- Volume 53 nº 3 - 2019
- Volume 53 nº 2 - 2019
- Volume 53 nº 1 - 2019
- Volume 52 nº 4 - 2018
- Volume 52 nº 3 - 2018
- Volume 52 nº 2 - 2018
- Volume 52 nº 1 - 2018
- Volume 51 nº 4 - 2017
- Volume 51 nº 3 - 2017
- Volume 51 nº 2 - 2017
- Volume 51 nº 1 - 2017
- Volume 50 nº 4 - 2016
- Volume 50 nº 3 - 2016
- Volume 50 nº 2 - 2016
- Volume 50 nº 1 - 2016
- Volume 49 nº 4 - 2015
- Volume 49 nº 3 - 2015
- Volume 49 nº 2 - 2015
- Volume 49 nº 1 - 2015
- Volume 48 nº 4 - 2014
- Volume 48 nº 3 - 2014
- Volume 48 nº 2 - 2014
- Volume 48 nº 1 - 2014
- Volume 47 nº 4 - 2013
- Volume 47 nº 3 - 2013
- Volume 47 nº 2 - 2013
- Volume 47 nº 1 - 2013
- Volume 46 nº 4 - 2012
- Volume 46 nº 3 - 2012
- Volume 46 nº 2 - 2012
- Volume 46 nº 1 - 2012
- Volume 45 nº 4 - 2011
- Volume 45 nº 3 - 2011
- Volume 45 nº 2 - 2011
- Volume 45 nº 1 - 2011
- Volume 44 nº 3 - 2010
- Volume 44 nº 2 - 2010
- Volume 44 nº 1 - 2010
- Volume 44 nº 1 - 2010
- Volume 43 nº 1 - 2009
Volume 59 nº 3 - 2025 | Dispositivos da clínica
Sumário (Clique nos títulos para acessar editorial ou resumos disponíveis)
Editorial
Dispositivos da clínica
Berta Hoffmann Azevedo, São Paulo
Quem me dera
Um mapa de tesouro
Que me leve a um velho baú
Cheio de mapas do tesouro
— Paulo Leminski
Há uma clínica psicanalítica padrão separável da invenção? Penso que não. Ao menos não aquela clínica em movimento vitalizado e vitalizador. Desse ponto de vista, a força da psicanálise não reside na rigidez de formas imutáveis, mas em sua capacidade de reinvenção, presente desde a origem, para criar as condições mínimas que permitam a instalação da transferência e a realização de um trabalho subjetivante.
O título deste número está no plural, e essa escolha, não aleatória, já afirma de antemão uma aposta que desloca a noção de que o consultório é o único espaço legítimo de exercício clínico da psicanálise. Com suas convenções de espaço, tempo e pagamento, ele é apenas uma das formas possíveis de clínica e, mesmo no interior dessa prática, a psicanálise inventa diversos dispositivos para atender aos igualmente múltiplos desafios que enfrenta.
Forma e conteúdo, assim, afetam-se mutuamente, e convém pensá-los em articulação entre si. Não é o mesmo escutar alguém no formato divã-poltrona, poltrona-poltrona, na modalidade individual, de casal, família, grupo, instituição, ou num formato a céu aberto na rua. Cada configuração responde melhor a um certo contexto de realidade e demanda. Mapas do tesouro, cujos caminhos moldam e transformam a experiência analítica, redefinindo a maneira como o sujeito pode falar, ser escutado e elaborar seu sofrimento.
Enquanto prática orientada pela escuta do inconsciente em transferência, a psicanálise pode encontrar lugar em contextos institucionais e comunitários, em modalidades bem estruturadas e estáveis ou em situações emergenciais, em que o enquadre tradicional não é possível e nem mesmo desejável. Nesses casos, a reinvenção da moldura permite a manutenção da aposta psicanalítica na sustentação da palavra, no acolhimento do sofrimento em seu contexto e na possibilidade de emergência de algo novo na experiência do sujeito.
Cada dispositivo traz consigo alcances e limitações próprios, nos quais vale a pena pensar. Os do consultório privado, mesmo em suas variações, são mais estudados e formalizados em pesquisas que aqueles reclamados por Freud desde 1918 (no Congresso Internacional de Psicanálise em Budapeste), para serem criados e ampliarem acesso e circulação da psicanálise a sujeitos historicamente excluídos do campo da saúde mental. Esses trabalhos parecem acontecer com maior frequência em modos experimentais do que orientados por pesquisa e formação prévia dos analistas. É essa lacuna que o presente número da rbp contribui para preencher.
Não basta criticar a máxima simplista “Isto não é psicanálise”. É preciso, além disso, pensar por que e de que modo os múltiplos enquadramentos sustentados por um psicanalista podem ser reconhecidos como prática clínica em psicanálise, sem se converterem em imitação mal-acabada da atuação em consultório, nem em gestos de caridade assistencialista.
O que sustenta a função analítica em dispositivos clínicos que não oferecem garantias fixas de regularidade, frequência e duração dos encontros? O que funciona como estrutura mediadora, capaz de promover e conter a irrupção pulsional e de favorecer a emergência do inconsciente na transferência? O que se escuta e como se maneja o que se escuta? A ênfase recai sobre vias coletivas ou individuais de elaboração? E em que medida se favorece ou não uma disposição regressiva?
A posição ética do analista diante de um sujeito e de seu sofrimento é decisiva nessa transformação elaborativa e nos efeitos de subjetivação que a psicanálise propicia. Ainda assim, a forma que o dispositivo técnico assume não é neutra nem irrelevante.
A função sustentadora do enquadre interno do analista (Green, 2012) permite que a psicanálise se realize também em circunstâncias aparentemente adversas. Em situações sociais críticas, as criações técnicas orientadas pela ética da psicanálise nem sempre serão semelhantes às condições de consultório. Elas respondem a conjunturas singulares e se sustentam precisamente na função do enquadre interiorizado, mesmo sem divã ou garantias de regularidade. O enquadre, assim, é menos uma moldura física do que uma posição subjetiva que possibilita a instalação da transferência e a recuperação da magia das palavras.
É o que acompanhamos nos textos reunidos neste número: alguns discutem a noção de dispositivo; outros apresentam suas práticas no território; todos testemunham a vivacidade da psicanálise que, ao ampliar seus dispositivos, não dissolve sua ética, mas, ao contrário, radicaliza-a.
Além dos trabalhos temáticos e dos artigos de tema livre, a seção “Diálogos” apresenta um texto teórico-clínico de Silvia Maia Bracco, “O menino-dossiê e os dispositivos clínicos”, realizado em um ateliê-escola junto a uma criança marcada por múltiplas interseccionalidades. O texto é comentado por Ane Marlise Port Rodrigues e Maria Teresa Naylor Rocha.
Já na seção “História da psicanálise”, Elizabeth Ann Danto aborda o trabalho comunitário desenvolvido por Anna Freud em Viena, entre os anos 1920 e 1930, destacando o compromisso da psicanalista com populações marginalizadas.
Na seção “Interface”, a diretora e dramaturga Janaina Leite assina “Teatro, uma (auto)análise”, em que explora os atravessamentos entre arte e psicanálise, as possibilidades elaborativas do processo criativo e o atual inflacionamento das poéticas do eu.
Por fim, temos o prazer de oferecer aos leitores a tradução inédita em português do artigo “O conceito de potencialidade psicótica”, de Piera Aulagnier.
Esperamos que as páginas a seguir inspirem a investigar e reconhecer os múltiplos dispositivos da clínica, pelos quais a psicanálise vem alcançando cada vez mais novos contextos.
Boa leitura a todos.
Referências
Freud, S. (2010). Caminhos da terapia psicanalítica. In S. Freud, Obras completas (P. C. Souza, Trad., Vol. 14, pp. 279-292). Companhia das Letras. (Trabalho original publicado em 1919)
Green, A. (2012). El encuadre psicoanalítico: su interiorización en el analista y su aplicación en la práctica. Revista de Psicoanálisis, 69(1), 1-24.
Berta Hoffmann Azevedo
Editora
DOI: 10.69904/0486-641X.v59n3.01
Temáticos
A autora propõe refletir sobre as intervenções psicanalíticas realizadas
fora do setting tradicional, partindo de uma cena que expõe questões ligadas à
identidade e ao pertencimento. Questiona como ampliar a escuta e os modos de
intervenção para que a psicanálise seja capaz de integrar as transformações sociais
e se tornar efetivamente inclusiva. Nesse sentido, o dispositivo clínico precisa ser
inventado conforme as especificidades do caso e do contexto – incluindo gestos,
mediações e, especialmente, a escrita. A escrita é sugerida como recurso capaz de
sustentar experiências, produzir simbolizações e transmitir o que ficou silenciado.
Registrar essas ações é também valorizar o trabalho realizado em enquadres não
convencionais, conferindo-lhe estatuto e permitindo deslocar aquilo que está na
margem para a borda.
Palavras-chave: psicanálise extramuros, dispositivo clínico, escrita, margem e borda,
inclusão social
O autor propõe uma reflexão sobre a escuta territorial como prática clínica
e ética da psicanálise em situações sociais críticas. A partir do diálogo entre
os fundamentos da psicanálise e o conceito de território desenvolvido por Milton
Santos, argumenta que o território deve ser compreendido em sua multidimensionalidade,
como espaço de disputas, relações simbólicas e produção de subjetividade.
Utiliza como referência o método da escuta territorial, elaborado por Jorge
e Emília Broide, que propõe uma clínica situada, capaz de acolher o sofrimento
psíquico nas margens do instituído, fora dos limites do consultório tradicional.
Destaca a importância da escuta sensível e politicamente engajada em situações
marcadas pela exclusão, defendendo a criação de dispositivos clínicos que possibilitem
o acesso à análise e sustentem a transferência em territórios vulnerabilizados.
Por fim, discute a urgência de uma psicanálise pública, integrada às políticas de
saúde mental, comprometida com a transformação social e com o enfrentamento
das desigualdades que atravessam o sujeito.
Palavras-chave: escuta territorial, psicanálise pública, território usado, situações
sociais críticas, dispositivos clínicos
Neste artigo, os autores compartilham a experiência da construção de
um dispositivo clínico transdisciplinar em rede, que sustentou a escuta e o manejo
psicanalíticos numa situação familiar na qual a destrutividade implicou limites
para o atendimento psicanalítico em consultório. Eles fazem um percurso guiado
principalmente por contribuições de autores que se dedicaram a pensar situações-
-limite, como André Green, Berta Hoffmann Azevedo, Luís Claudio Figueiredo e
Fabio Herrmann, para refletir sobre os impasses dessa clínica e os atravessamentos
que nos obrigam a reposicionar o próprio enquadre como operador psíquico. Isto
é, o enquadre não é dado, mas construído, criado, inventado, passo a passo, em
cada situação.
Palavras-chave: dispositivo clínico, enquadre psicanalítico, clínica transdisciplinar,
desamparo, situações-limite
A autora apresenta os primeiros anos do trabalho com grupos analíticos
na América Latina e no Brasil, para em seguida introduzir a trajetória do trabalho
analítico com grandes grupos ocorrido nas décadas de 1960 e 1970 na Inglaterra.
Mostra as perspectivas psicanalíticas, grupanalíticas e da group relations em suas
dimensões teórico-técnicas, destacando o papel do trabalho com grandes grupos
na criação de espaços coletivos de autorreflexão, diálogo e elaboração traumática.
Nessa direção, diante dos desafios apresentados pelo século 21, o trabalho com
grandes grupos, ainda pouco conhecido no Brasil, revela-se uma ferramenta fundamental
para o fortalecimento do laço social e a promoção da saúde mental e da
cidadania em grupos e sociedades.
Palavras-chave: grupos grandes, diálogo, elaboração traumática
O autor, a partir da evocação da experiência que conduziu no Centro
Cultural São Paulo há quase vinte anos, faz considerações sobre a importância de
o psicanalista alcançar outros territórios, se aproximar e se expor à diversidade dos
habitantes da metrópole, reafirmando a potência da psicanálise e garantindo sua
vitalidade.
Palavras-chave: psicanálise, psiquiatria, saúde mental, alcance social, diversidade
O autor parte de suas vivências como médico intensivista e psicanalista
para criar uma espécie de diário de bordo que comunica as situações emocionais
limítrofes experimentadas durante a pandemia de covid-19, utilizando-se da noção
do trânsito contínuo entre estados mentais – que denomina de estado mental
intensivista e estado mental psicanalista – para descrever as experiências emocionais
sofridas. Através do contato com sua intuição, imaginação e sonhos, apresenta
uma série de vinhetas clínicas, adotando como principal referencial o pensamento
de W. R. Bion.
Palavras-chave: mente multidimensional, pandemia, experiência emocional, experiência
catastrófica, psicanálise
Cada tragédia é um chamado à responsabilidade social e ética do psicanalista
para intervir na comunidade. O psicanalista conta com uma valiosa caixa
de ferramentas que lhe permite abordar o sofrimento humano provocado por
situações disruptivas, que podem vir a ser traumáticas quando a subjetividade é
desmontada em suas funções. O analista pode oferecer continência, uma escuta
psíquica, ser testemunha da dor mental, conclamar a vitalidade de Eros, criar uma
narrativa que permite nomear e dar sentido ao que outrora aparecia como impensável,
entre tantas outras misteriosas funções que exerce no campo analítico. A
identidade analítica propicia uma experiência emocional inédita permeada pelo
amor de transferência. O paciente é convocado, com fé, paixão e esperança no
método, para as transformações possíveis.
Palavras-chave: prevenção, clínica social, psicanálise na comunidade,
situação traumática
O ato de comer tornou-se bastante perturbado nas últimas décadas, ampliando-
se os transtornos alimentares e de imagem corporal. O aumento desses
quadros na clínica psicanalítica atesta que o controle social do corpo leva à alienação
dos sinais básicos da alimentação (fome, saciedade, prazer e escolha livre
de alimentos) e à busca por um corpo idealizado. A partir dos conceitos de ato
puro e mentalidade de dieta, a autora propõe o trabalho de consciência alimentar,
que pode ser realizado em grupo ou individualmente, como um dispositivo clínico
que agrega à investigação psicanalítica a potencialidade de trabalhar aspectos da
psicomecânica alimentar e dos sentidos de gordura e magreza. É indicado para
pessoas que sofrem com sintomas e problemáticas alimentares diversas, pois visa à
construção de maior autonomia alimentar.
Palavras-chave: ato puro, mentalidade de dieta, consciência alimentar, sintomas
alimentares, distúrbio de imagem
As autoras apresentam um dispositivo grupal desenvolvido com mulheres,
inspirado no método da fotolinguagem e sustentado pela escuta clínica,
ancorada na psicanálise, em suas extensões e em sua dimensão ético-política. A
experiência foi realizada em uma Unidade Básica de Saúde com mães de crianças
em grave sofrimento psíquico. As autoras discutem o dispositivo a partir de dois
eixos que emergiram da escuta: o olhar, entendido como gesto de apropriação e
deslocamento simbólico; e as formas de habitar a paisagem, compreendidas como
expressões de processos subjetivos em cena. Apresentam ainda recortes das falas
de duas participantes. Nessa direção, a mediação da imagem-paisagem revelou-se
um recurso clínico fecundo no trabalho com mulheres marcadas por violências
simbólicas e processos de desautorização subjetiva. As imagens escolhidas tornaram-
se suporte para a construção de um espaço estendido do eu, sustentado pela
articulação entre a dimensão coletiva e a singularizante.
Palavras-chave: fotolinguagem, psicanálise, paisagem, grupo de mulheres,
dispositivo clínico
Os autores apresentam o projeto vencedor do primeiro lugar do Prêmio
ipa na Comunidade e no Mundo 2025, na categoria Violência. Retratam o trabalho
do Grupo de Atendimento Clínico (gac), Cowap Brasil, criado em 2021
com o propósito de atender mulheres vítimas de violência intrafamiliar por via
do teleatendimento. Seguem a estrutura proposta pela ipa: 1) metas e objetivos do
projeto; 2) impacto na estratégia comunitária da ipa; 3) impacto na comunidade;
4) medição e avaliação dos impactos; 5) benefícios duradouros do projeto; 6) plano
de desenvolvimento futuro do projeto. Com a exposição da história do gac, seus
objetivos e ampliações, e com a apresentação de um caso clínico, ilustrador da
intervenção clínica com pacientes nessas situações emergenciais, procuram compartilhar
a experiência desse grupo de atendimento clínico e de pesquisa.
Palavras-chave: psicanálise, violência, trauma, gênero
Os autores refletem sobre a capacidade do grupo de “sonhar” um material
clínico e formar imagens e metáforas de alto poder evocativo, reconstruindo o caminho
analítico percorrido pelo paciente e pela dupla ao longo do processo. Para
isso, discutem acerca das particularidades dos processos associativos do grupo,
enfatizando a inter/pluridiscursividade e a domesticação de pensamentos selvagens,
os quais encontram, no grupo, pensador. Diante de novas ferramentas de
investigação em psicanálise, ilustram com a descrição de uma vivência de working
party e as formas como o grupo sonhou o material clínico. Essa espécie de sonhar
em grupo renova a fé no método psicanalítico, estimula a manutenção de uma escuta
analítica afiada e permeável às construções do(s) outro(s), revigora as formas
de transmissão e de ensino da psicanálise e mostra-se uma ferramenta útil para a
formação analítica continuada.
Palavras-chave: grupo, funcionamento grupal, reverie, sonhar, working party
A autora propõe um dispositivo – o ateliê clínico – para abordar o que
denomina dissociação teórico-clínica. Idealmente, ao fim de quatro encontros,
cada participante do grupo integra a experiência de como a clínica pede ferramentas
conceituais sem as quais é difícil transformar o “barulho” do material clínico
em sentido. E vice-versa: os colegas descobrem a teoria diretamente encarnada na
clínica; quando ela sai das páginas dos livros e ganha vida, pode ser integrada ao
repertório e à identidade do analista. A autora ilustra sua proposta com o relato de
dois dos quatro encontros de um de seus ateliês clínicos.
Palavras-chave: formação psicanalítica, ateliê clínico, dissociação teórico-clínica,
integração teórico-clínica
Diálogos
Ao longo de seis anos, a autora acompanhou o trabalho com um garoto
que condensa várias interseccionalidades – um menino negro, sem família, com
questões de saúde mental, classe e gênero – e é aluno regular do ateliescola acaia.
Aqui ela reflete sobre a complexidade de um processo psicanalítico em outros contextos.
Em um ambiente multidisciplinar, onde a equipe de educadores ocupa um
lugar central, com apoio da escuta psicanalítica, são desenvolvidos dispositivos clínicos
que podem estar em consonância com o tipo de sofrimento em jogo, quando
escutamos pessoas que vivem imersas em um caldo de violência e invisibilidade.
Palavras-chave: extensão da clínica, dispositivos clínicos, desenraizamento,
instituição
não disponível
não disponível
Tema livre
O autor explora o conceito ferencziano de identificação com o agressor,
efeito do trauma psíquico, indicando três de suas vicissitudes: o amor submisso, o
ódio destrutivo e o auto-ódio. Examina mais detidamente o destino do auto-ódio,
ilustrando-o com o complexo de vira-lata, assim nomeado pelo escritor brasileiro
Nelson Rodrigues, junto a trechos biográficos relativos ao antissemitismo experimentado
por Freud e por seu pai, Jacob. Além disso, aponta uma associação
inédita entre a teoria do trauma de Ferenczi e os estudos freudianos sobre o Witz
(espirituosidade), tomando como referência a publicação Os chistes e sua relação
com o inconsciente. Finalmente, tece considerações acerca da pulsão de repouso
(Ruhetrieb), formulada por Sándor Ferenczi em seu Diário clínico.
Palavras-chave: trauma psíquico, antissemitismo, identificação com o agressor,
auto-ódio, pulsão de repouso
Este artigo, inédito em português, resulta de uma conferência dada em
1986 e apresenta um resumo ao mesmo tempo denso e claro do pensamento de
Piera Aulagnier em confronto com os paradigmas do autismo e das psicoses precoces.
A autora busca compreender e representar o início da vida psíquica no jogo
complexo que é instaurado entre a mãe e o infans. Do lado da psique materna, o
Eu da criança é previamente identificado e investido, antes mesmo de vir ao mundo.
Do lado da criança, há uma necessidade vital de encontrar um compromisso
identificatório entre essa identificação parental e sua própria autoconstrução. É a
possibilidade – ou não – de introduzir uma diferença entre essa antecipação e sua
própria trajetória identificatória que determinará sua resposta diante daquilo que
Piera Aulagnier caracteriza como violência fundamental. Se nenhuma diferença
ou nenhuma mudança for possível na construção que lhe é imposta, pode-se organizar
uma potencialidade psicótica ou uma psicose infantil. É também na impossibilidade
de um jogo suficientemente móvel desse edifício identificatório que
qualquer movimento por parte do entorno – ainda que mínimo, mas imprevisto
– pode vir a provocar um colapso.
Palavras-chave: autismo, psicose precoce, potencialidade psicótica, problemática
identificatória
História da psicanálise
A autora considera o trabalho com a comunidade desenvolvido por
Anna Freud na Viena dos anos 1920 e 1930. Aponta sua parceria com figuras como
August Aichhorn, Siegfried Bernfeld, Willi Hoffer e sua companheira de vida, a
nova-iorquina Dorothy Tiffany Burlingham. Explora especialmente as ideias fomentadas
no periódico Zeitschrift für Psychoanalytische Pädagogik e os serviços
prestados na Creche Jackson e nos Beratungsstelle, centros de aconselhamento
educacional e juvenil.
Palavras-chave: Anna Freud, Viena Vermelha, psicanálise comunitária, análise
infantil
Interface
A partir de uma trajetória artística marcada pela pesquisa em torno da
autorrepresentação e do uso do documento na cena contemporânea, a autora propõe
uma reflexão sobre os atravessamentos entre arte e psicanálise e a elaboração
do trauma por meio de processos criativos. Se, por um lado, a linguagem artística
mostra-se um território fecundo para o entrelaçamento da experiência pessoal e
da criação poética, tangenciando o limite entre arte e vida – tão caro à arte contemporânea
–, por outro, o inflacionamento das poéticas do eu, baseadas em um
regime de extimidade e certo imperativo de transparência das identidades, exige
um esforço de revisão crítica diante de um esgotamento não apenas formal, mas
também subjetivo.
Palavras-chave: autobiografia, teatro documental, trauma, real
Resenhas
Resenhado por:
Luciane Falcão